O estudo antropológico da religião e das teorias ontológicas
- Categorias Debates, Novidades, Virada ontológica
- Data 6 de maio de 2020
- Comentários 0 comentário

Texto de César Ceriani, publicado originalmente em DIVERSA. Tradução por Florencia Chapini.
Entro no diálogo esclarecendo que minhas leituras sobre a produtiva corrente ontológica são escassas e fragmentadas (refiro-me aqui à síntese crítica detalhada de Alejandro López para o site do DIVERSA). Dado seu forte impulso em estudos antropológicos da última década, fica claro que sua contribuição para as formas de conhecimento, definição e apreensão da “realidade” por diferentes grupos ou sociedades, e sua crítica aos esquemas de análise social moderno-centrados, merece séria atenção às suas premissas. Como não estou em condições de fazer isso, vou me limitar à premissa que nos une nesta discussão sobre as possíveis implicações de seus postulados nos estudos antropológicos da religião. Minha breve leitura crítica levará em conta um (pré) julgamento genealógico e sociológico sobre elas, enquadrado em um certo descontentamento epistemológico sobre sua vocação conceitual onívora de refazer a produção antropológica de conhecimento.
A investigação antropológica sobre formas de mentalidade e construções cosmológicas (ou cosmovisionais) foi fundamental no desenvolvimento do pensamento antropológico em uma lista (sem dúvida abreviada) que vai de Tylor e animismo, Durkheim e Mauss e os princípios de classificação, Lévy -Bruhl e a “lei da participação”, Lévi-Strauss e seu famoso penseé savage que constrói sentidos inteligíveis baseados em percepções sensíveis, a antropologia cognitiva norte-americana (hoje tão esquecida) e seus incansáveis esforços para entender as construções nativas de seus mundos de acordo com as próprias categorias e as correntes simbólicas que sempre nos alertavam sobre a natureza mediada dela práxis social. Em definitiva, costumo considerar que vários dos postulados fundadores da virada ontológica não são tão revolucionários quanto se supõe. Levar as categorias nativas a sério em suas definições de realidade é um princípio axiomático da antropologia desde Malinowski (se a cumprimos ou não é outra questão), a crítica à noção de “crença”, dada sua conexão inerente aos nossos mundos idiomáticos cristãos e ilustrados já foi discutido pelo último Lévy-Bruhl quando ele nos alertou que é muito difícil separar o que é propriamente experiência do que é propriamente crença e conjurou uma das obras mais lúcidas da antropologia britânica dos ’70, Belief, Language and Experience de Rodney Needham (1972). A crítica à noção de crença, precisamente, é consequência das pesquisas dedicadas ao estudo antropológico da religião (estou pensando no renomado trabalho de Jeannet Favret-Saada sobre bruxaria no interior da França ou nas investigações de Joel Robbins e Webb Keane sobre cristianismos indígenas na Melanésia).
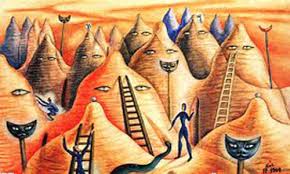
Se assumirmos que confiamos plenamente nas categorias nativas de construção da realidade, por que desconfiamos dos usos que os sujeitos fazem de noções como “espiritualidade” e suspeitamos que eles realmente se referem apenas ao relacionamento imanente com seres não humanos (Tola e dos Santos no blog do DIVERSA)? Por que não problematizar, além do dualismo reificado da imanência / transcendência, os modos pelos quais as categorias sociais são redefinidas na ação, nos usos, efeitos esperados e instrumentalizações que os agentes realizam em condições e situações históricas concretas? Isso não implica desconhecer que os agentes ativos nessas trajetórias coletivas da vida cotidiana ou política implicam uma rede de complexas relações de coabitantes em planos cosmológicos entrelaçados. Pelo contrário, essa é a base da “massa mãe” do estudo antropológico da religião. O preconceito socio-lógico refere-se então ao refluxo essencialista que, pela minha ignorância aprendida, permeia um certo olhar ontológico e sua dificuldade em assumir o caráter histórico, transformador e semi-determinado da experiência humana. Como as ontologias se transformam? Como as cosmologias variam (pouco ou radicalmente)? Essas definições de realidade são inabaláveis, esses mundos relacionais imanentes?
Por seu lado, as críticas aos dualismos (ou binarismo, se preferirem) cultura / natureza e representação / realidade que tem posicionado as leituras ontológicas nos permitem algumas chaves para aprofundar nossos interesses em compreender e traduzir os mundos significativos, afetivos e materiais do que nós chamamos religião. Nesta ordem, resgato especialmente a importância de nos distanciarmos do dualismo representacional típico da episteme moderna e permitir uma investigação complexa das implicações coercitivas dos sentidos, afetos e materialidades nas construções relacionais dos mundos da vida habitados por “deuses”, “espíritos”, “potências”, “santos”, “antepassados” etc., comumente incluídos na categoria de “seres não humanos”.

César Ceriani é doutor em Antropologia pela Universidade de Buenos Aires (UBA) e pesquisador do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Próximo post
A “antropologia do cristianismo”: laboratório para estudar os efeitos da “virada ontológica” na antropologia da religião
Você também pode gostar
Seminário “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”
O Laboratório de Antropologia da Religião convida a comunidade acadêmica da Unicamp e a comunidade externa para participarem do Seminário do LAR, com o tema “Laicidade na Universidade: sentidos e controvérsias”. Organizada por Mariana de Carvalho Ilheo (PPGAS/Unicamp) e Olívia …


